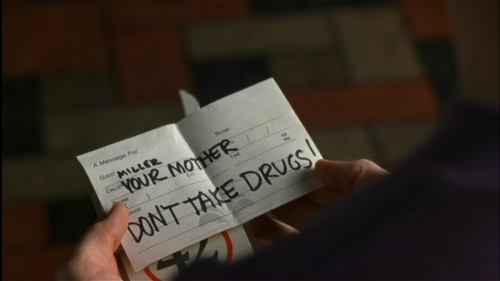Penso bastante nessa idéia de filmes de geração. Obviamente (por carência de informações), nos filmes da minha geração, isto é, os filmes que meus amigos carregam como bandeiras nos álbuns do Orkut, camisetas, bloquinhos, paredes. Filmes que revelam coisas, muitas não ditas, que estão por aí, consciente e inconscientemente. É idéia pra ser desdobrada em muitos posts, se eu tivesse mais fôlego e clareza, mas que já se impõe neste comentário.
Uma Noite em 67, o filme da vez. Digo, filme da vez em meu meio (lembrando que este é um blog abandonado que acredita em autoria). Desde o seu lançamento (que aliás teve uma sessão especial, ou qualquer coisa assim que eu não entendi muito bem, em uma famosa festa de música brasileira em uma famosa casa “alternativa” carioca), Uma Noite em 67 está nos twitters, blogs, facebooks e nas conversas dos meus conhecidos. Meus conhecidos que são universitários da área de humanas, professores e qualquer gente assim meio “alternativa”. Além de curiosa em função dos comentários, quis ver o filme porque eu também sou fiel ao nicho e pago pau pra Caetano, Chico, Gil…
E o documentário diz muito, seu pequeno sucesso – coisa grande quando se fala em cinema nacional – diz muito mais, diz sobre seu público e sobre as diretrizes da arte no Brasil. Procurando reconstruir o final do festival da canção de 1967, o filme une imagens do acontecimento com entrevistas atuais, criando uma narrativa com ares de telejornalismo competente, – o que é coisa rara e até louvável – mas falha como cinema. Uma Noite em 67 cai na superficialidade, apenas pincela a relevância cultural do festival e nem de longe contempla o seu contexto histórico, torna-se então um recorte nostálgico de uma época. Repito, como um programa de uma tarde de domingo o filme cai bem, como uma reportagem chega a genialidade, mas não se realiza enquanto filme, não diz sua razão de ser e não embarca o sentido emocional da noite que conta.
Não me convence, me deixa com um pé atrás. É perigosa a nostalgia que une minha geração (e como geração me limito escrotamente a galerinha “alternativa”). Vamos a festas que tocam majoritariamente músicas de outras épocas, lemos livros de outras épocas, nos vestimos fazendo referências a outras épocas e quando vamos ao cinema é para sentir saudade do que não vivemos.
A ironia maior é que os personagens daquela noite não precisam sentir saudades de quando eram jovens e nós, os jovens, sofremos a falta de uma juventude não vivida. E nada é mais besta que essa melancolia de “nasci na época errada” (aliás, não me faça falar sobre a quantidade de absurdos contidos nessa única frase) e nada é mais recorrente.
A primeira dúvida que me veio à cabeça vendo o filme foi: Por que esse filme atrai mais público que o tão atual Histórias de amor duram apenas 90 minutos? Entendo o apelo de um filme com imagens dos caras mais incríveis da música brasileira, mas não entendo a burrice da minha geração de ignorar seu tempo.
A verdade mais do que explícita é que nosso tempo nos desagrada e nos dá quase nada de perspectivas, enquanto a juventude dos anos 60 cantava Alegria, alegria em plena ditadura. Esta imagem da luta durante a ditadura tornou-se um estranho símbolo nacional, pois distorce-se a história e toma-se como algo sublime um tempo cheio de horrores e angústias. Todos os anos filmes, minisséries, novelas e outros produtos culturais são feitos com essa temática e geralmente assim, com ares de “Naquele Tempo a Juventude era Diferente”. Coisa inegável, estranho seria se não fosse.
Minha geração negligencia seu tempo e usa o passado como justificativa, quando o passado só deveria ser motor para a perseverança. Tomar o legado cultural que a geração de 67 deixou como um bibelô é a pior das traições. Assim como o filme, seu público esquece a história e se refugia neste simulacro tosco. Enxergar a história seria perceber que a arte daquele tempo só existiu porque houve movimento, ação e reação, coragem de encarar e urgência de agir. Honrar essa arte é perceber a necessidade de negar as desgraças do presente, apoiando-se no passado, mas com os pés e meios deste tempo. Fazer arte é também fazer história.
* Apesar de tudo, repito, não é um filme ruim, mas é preciso ter cuidado. E acha que o que digo precisa ser dito, talvez eu seja histérica e exagerada, mas é o meu jeitinho.
Taís Bravo